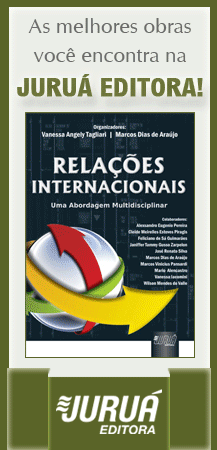Caros leitores,
aproveitando o término de minha especialização em Direito Internacional Penal, e como tive de estudar alguns temas atinentes ao Direito Penal Brasileiro a fim de compreender a dinâmica interestatal da disciplina, segue texto por mim redigido usado como resposta em uma das avaliações a que fui submetido na Pós-graduação. Acredito que seja relevante para os estudantes universitários e alunos compreenderem a dinâmica da embriaguez no ordenamento jurídico-penal pátrio. Acrescentei ao final alguns excertos doutrinários que podem ajudá-los a compreender melhor a temática. Como não sou advogado criminalista, peço aos leitores e alunos que contribuam com sugestões para aprimoramento do estudo. Beijos e abraços!
__________
"A embriaguez no direito penal brasileiro deve ser entendida, preliminarmente, como um modificador da imputabilidade que é ocasionado tanto pela ingestão de bebidas alcoólicas quanto pelo uso de substâncias entorpecentes e psicoanalépticas. Em virtude disso, existem as seguintes modalidades de embriaguez previstas no Código Penal Brasileiro de 1940 (CPB):
1- Embriaguez Fortuita: decorrente de caso fortuito ou força maior (respectivamente, imprevisibilidade e inevitabilidade segundo grande parcela da doutrina, capitaneada por E. Magalhães Noronha). Caso seja completa, afasta a culpabilidade do agente por inimputabilidade, nos termos do artigo 28, §1º, CPB. Caso a embriaguez fortuita seja incompleta, haverá redução da culpabilidade do agente, incidindo sobre uma diminuição da pena cominada ao delito praticado.
2- Embriaguez Patológica: decorrente da dependência alcoólica ou química do agente. Embora não mencionada de forma expressa no CPB, extrai-se de seu espírito por método interpretativo sistemático que a embriaguez patológica igualmente exclui a culpabilidade do agente por inimputabilidade, impondo-lhe, neste específico caso, medida de segurança ao invés de pena, por tratar-se de sujeito que não possui capacidade de entender o caráter ilícito do delito e de determinar-se segundo tal entendimento, por estar constantemente ébrio.
3- Embriaguez Culposa: prevista no artigo 28, II, CPB, trata-se da hipótese na qual o agente, por negligência ou imprudência, embriaga-se e posteriormente comete delito sem que haja efetivo desejo em cometê-lo. Ou seja, há ausência de vontade livre e consciente dirigida finalisticamente á prática criminosa (dolo). Neste caso, não há qualquer modificador de imputabilidade penal, pois adota-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da Actio Libera in Causae (o agente encontrava-se livre em sua determinação e consciente no momento anterior do estado de embriaguez, sendo previsível o resultado danoso de sua conduta se estivesse embriagado (lembrando-se sempre que embriagado engloba tanto a inimputabilidade decorrente da bebida alcoólica quanto da substância psicoanaléptica).
4- Embriaguez Voluntária: prevista igualmente no artigo 28, II, CPB, possui os mesmos efeitos jurídico-penais da embriaguez culposa, por aplicação da Teoria da Actio Libera in Causae no ordenamento pátrio. A única diferença entre ambas encontra-se na esfera de entendimento do agente, pois na embriaguez voluntária este conhece previamente os efeitos que a embriaguez poderá causar em sua futura conduta criminosa, ou seja, há vontade livre e consciente de embriagar-se, enquanto que na embriaguez culposa não há tal vontade qualificada, mas por imprudência ou negligência o agente embriaga-se e posteriormente comete crime cujo resultado era previsível nas circunstâncias em que foi praticado.
5- Embriaguez Preordenada: disciplinada no artigo 61, II, l, CPB, trata-se de modalidade genérica de agravante causada pelo fato do agente embriagar-se dolosamente com a intenção de, através da embriaguez, praticar uma conduta típica, ilícita, culpável e punível (na teoria funcionalista constitucional de Luiz Flávio Gomes). Neste aspecto, diferencia-se das demais formas de embriaguez pois é manejada como elemento para a prática do delito, planejado quando em estado de sobriedade".
- Excertos relevantes de estudos doutrinários:
"Em sua 'Criminologia', formula Afrânio Peixoto verdadeiro libelo-crime acusatório contra o alcoolismo. Começa por dizer que é irrisão ter o homem feito das fezes de uma bactéria - o álcool é o produto de desassimilação de um 'saccharomyces' - sua delícia. Mostra as consequências sobre o organismo humano se sobre a descendência do alcoólatra. Aponta as estatísticas da criminalidade, registrando seus índices mais elevados nos sábados e domingos e decrescendo daí por diante. Chama a atenção para a conduta dos governos, que não vacialm em auferir rendas a sua custa. Lembra a dizimação que ele produziu no 'pele-vermelha' da América do Norte e em nosso 'selvagem', queimando-se antes com o 'cauim' e mais tarde com o 'caiumtatá' (cachaça) que o 'civilizado' lhe deu. (...) Certamente, por isso é que as leis penais se têm estremado na punição do delito sob a ação do álcool e de substâncias análogas, esquecidas, entretanto, que também se devem acautelar quanto à consagração da responsabilidade objetiva a que podem ser conduzidas" (NORONHA, E. Magalhães. "Direito Penal - Volume I: introdução e parte geral. 38ª Edição atualizada por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha. São Paulo: Editora Rideel, 2009, p. 180).
"Vale estabelecer a diferença entre embriaguez (mera intoxicação do organismo pelo álcool) e alcoolismo (embriaguez crônica, que é caracterizada por um 'abaixamento da personalidade psicoética', tornando o enfermo lento nas suas percepções ou levando-o a percepções ruins, a ponto de ter 'frequentes ilusões', fixando mal as recordações e cansando-se ao evocá-las, ao mesmo tempo em que 'a associação das ideias segue por caminhos ilógicos', cf. Altavilla, 'Psicologia Judiciária', v. 1, p. 284), levando em conta ser o alcoolismo considerado doença mental, logo, aplica-se o disposto no art. 26, 'caput', do Código Penal, ou seja, o agente deve ser absolvido, aplicando-se-lhe medida de segurança" (NUCCI, Guilherme de Souza. "Manual de Direito Penal". 7ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 312).