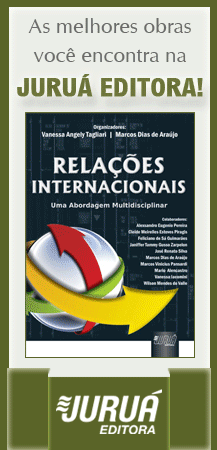Estimados leitores,
retornei às atividades aqui no Blog, desta vez com um novo design: sutil, porém renovador. Para iniciar com bons temas, colaciono abaixo a primeira parte do artigo de minha autoria intitulado Introdução ao Regime Jurídico da Empresa em Crise. Interessante para os que se iniciam nos estudos de Direito Empresarial Falimentar. Boa leitura!
__________
RESUMO
Este trabalho científico tem como principal objetivo traçar um panorama amplo e breve sobre o regime jurídico-mercantil das falências e do novel instituto da recuperação judicial, trazido à luz pela Lei 11.101/2005. Embora não se repute como uma pretensão do autor o esgotamento da discussão acerca de tão viva problemática no atual panorama empresarial brasileiro, o tema será tratado com o devido rigor, sempre em busca da interdisciplinaridade e de uma interpretação não estrita da Lei de Falências, que contemple aspectos externos à letra fria da lei, tais como econômicos, culturais e atinentes à Ciência da Administração, sob uma análise doméstica e internacional.
Palavras-Chave: Falência, Recuperação, Direito, Economia, Globalização.
1. PALAVRAS INICIAIS SOBRE O REGIME JURÍDICO DA LEI 11.101/2005.
O Direito Mercantil, em suas inúmeras vicissitudes, sempre foi um ramo das Ciências Jurídicas versado na prática comercial (atualmente, empresarial). Desde sua potencial formação há cerca de um milênio, figura como um dos mais nobres campos de estudo do Direito Privado.
No cenário contemporâneo, em que grandes conglomerados econômicos realizam transações com altos valores envolvidos, empresas transnacionais tem se tornado tão relevantes que, baseado em uma interdisciplinaridade com o Direito Internacional Público, muitos são os autores que a as classificam como atores internacionais .
Todavia, nem sempre as atividades mercantis são bem sucedidas em seu regular desenvolvimento. O grande risco envolvido, seja financeiro e material, seja sociológico, por vezes determina de forma sutil quais são as empresas que dominarão o mercado (ou mesmo conquistarão o devido espaço), e quais as que ingressarão em uma espiral da qual, até pouco tempo, não havia mais retorno: a falência.
Ora, o risco que envolve o desenvolvimento de uma empresa por vezes não é meramente determinado pelo comportamento do empresário. Com supedâneo nos estudos de Fábio Ulhoa Coelho, a empresa pode realizar todas as análises e condutas corretas para seu regular desenvolvimento, e ainda assim ingressar em um regime de crise. A saber:
“De fato, por mais que o empresário se esforce no sentido de dotar a empresa dos instrumentos de produção ou comercialização modernos, proceda às pesquisas de mercado cabíveis e técnicas, mantenha rigoroso e eficiente controle de qualidade, faça, em suma, exatamente o que deve fazer, o negócio pode não dar certo. Existem inumeráveis fatores sobre os quais o empresário não tem controle nenhum, como mudanças institucionais de direito-custo ou variações na estrutura ou conjuntura econômica regional, nacional ou global; o sucesso da empresa, por outro lado, depende da atuação de diversas pessoas, como empregados, fornecedores, prestadores de serviço, cada qual envolvida com seus próprios interesses e dificuldades; há, também, a concorrência, por vezes mais competente, por vezes, desleal; por fim, os consumidores podem, por inúmeras razões, simplesmente não comprar o que a empresa está oferecendo”.
A fim de que a atual empresa tenha seus direitos resguardados, e que seus credores possuam garantidos respectivamente seus valores investidos, cada qual em seu respectivo quinhão, surgiu na seara mercantil o Direito Falimentar (denominado igualmente de Direito de Falências, ou Direito Concursal), que traz a lume método de execução creditícia diversa da civil (execução processual ou extrajudicial segundo os cânones do Código de Processo Civil, após a fase cognitiva).
Atualmente, a norma que trata especificamente sobre a matéria do Direito Falimentar se encontra inscrita sob a Lei Ordinária Federal 11.101, promulgada em 09 de fevereiro de 2005. Para que se possa compreender como se traduz o contemporâneo mecanismo de resguardo jurídico dos credores e da empresa devedora em crise, é necessário buscar nas propedêuticas noções e na história do Direito de Falências as devidas respostas.
2. BREVE NOTÍCIA HISTÓRICA DO REGIME FALIMENTAR
O regime jurídico estabelecido no Brasil para a empresa que se encontra em crise econômico-financeira variou ao longo dos anos. Pode-se afirmar que o primeiro diploma que estabeleceu potencial resguardo para a classe mercantil foi o derrogado Código Comercial (Lei 556, de 25 de junho de 1850), que em sua Parte Terceira – Das Quebras – estabelece um embrionário sistema protetivo no âmbito da crise empresarial.
Posteriormente, o Executivo pátrio contemplou a produção normativa específica da área no Decreto-Lei 7661, de 21 de junho de 1945. Calcado sob os cânones de um Estado centralizador, que dominou o cenário nacional durante o século XX, a antiga Lei de Falências previa a liquidação da sociedade empresária insolvente – a Falência em sentido estrito – e a Concordata, regime que objetivava regularizar a situação econômica do mercador, possuindo as modalidades Preventiva e Suspensiva. Este instituto em especial conferia maior fôlego à empresa problemática, e embora fosse ainda autoritário em diversos aspectos, flexibilizava as graves limitações impingidas ao devedor falido, como se pode verificar no julgado abaixo:
“As incorreções na escrituração ou a falta de livros não fundamentais podem ser superadas pelo exame do perito contábil no curso do processo de concordata requerida pelo comerciante, desde que não se comprometa a lisura do pedido e nem se acarrete prejuízo aos credores ou terceiros (AI 65.017-1, São Paulo, TJSP, 4ª Câm., RT 604-62)”.
Na atualidade, o regime que subsiste é o da recente Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula o atual regime falimentar no Direito Brasileiro. Neste instrumento normativo, estão previstos os dois principais institutos aplicáveis na matéria em comento: a Falência (denominada por Sérgio Campinho de Falência-Liquidação), e a Recuperação Judicial e Extrajudicial (chamada de Falência-Recuperação pelo mesmo teórico) . A Recuperação Judicial, como novel instituto jurídico manejado no Direito Falimentar, pode ser caracterizada como uma evolução conferida ao anterior regime da concordata, que em nada se assimila. O atual sistema protetivo fornece à classe mercantil maiores condições de se autodeterminar e sobreviver diante de um panorama de crise econômico-financeira, e possibilita inclusive reconquistar sua posição no mercado.
terça-feira, 15 de novembro de 2011
sexta-feira, 16 de setembro de 2011
Importância do Direito Internacional e Exames Públicos
Verifica-se que, cada vez mais, a disciplina do Direito Internacional Público tem sido contemplada nos exames de acesso às carreiras do Estado brasileiro. Pode-se afirmar que se reputa imperioso o estudo, ao menos sistemático, dos temas internacionais para a formação do profissional das Ciências Sociais. Abaixo se encontram diversas questões sobre os temas do Direito Internacional Público exigidos nos exames de acesso às carreiras de Procurador do Banco Central, Diplomata, Procurador Federal, Advogado da União, e tantas outras que prestigiam a disciplina em seus conteúdos programáticos. Baseio este rol de questões no trabalho exercido junto às turmas de Direito Internacional Público I e II, da Faculdade Nacional de Direito (UFRJ):
__________
1ª Aula – DIP I:
(IRBr/2008)
“O Rei de Argos, Danao, tinha cinqüenta filhas. Ao serem forçadas ao matrimônio, elas seguiram o plano ardiloso de um assassinato coletivo dos maridos. Morreram quase todos, menos Linceu, poupado pela arrependida Hipernestra. Condenadas pela engenhosa justiça dos deuses, as danaides tinham de encher o tonel sem fundo para toda a eternidade. Viraram símbolo de trabalho sem fim e do desejo insaciável. As irmãs transmutaram-se em expressão latina: danaidum dolium — o tonel das danaides”.
KARNAL, Leandro. Introdução: um certo tonel. In: KARNAL, Leandro e FREITAS NETO, José Alves de (Org.). A escrita da memória: interpretações e análises documentais. São Paulo: Instituto Cultural Banco Santos, 2004, p. 13.
Tendo em atenção as relações interestatais dos dias de hoje, disserte a respeito da seguinte afirmação: "Defender a existência do direito das gentes parece ser o permanente danaidum dolium dos internacionalistas: por mais que se aprofunde o tema, ele nunca se esgota".
Extensão máxima: 60 linhas
(valor: 30 pontos)
1ª Aula – DIP II:
(IRBr/2008)
É considerado divisor de águas no direito internacional o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça no caso Reparação de danos a serviço das Nações Unidas acerca da morte de Folke de Bernadotte, mediador que, no exercício de suas funções, foi assassinado por extremistas israelenses em Jerusalém, em 1948. Essa consideração justifica-se porque o parecer
a) declarou a existência da Palestina como território insurgente.
b) homologou a jurisdição penal do Estado de Israel.
c) incorporou o princípio da legítima defesa internacional.
d) reconheceu a personalidade jurídica das organizações internacionais.
e) consagrou o pacifismo e a não-violência como deveres jurídicos.
RESPOSTA: alternativa D.
2ª Aula – DIP I:
(Advogado da União – AGU/2008)
Pode-se fazer um paralelo entre a União Europeia e o MERCOSUL. Ambas as comunidades originam-se de processos de integração e buscam normatizar as suas relações por meio de um direito de integração. Entretanto, há enormes diferenças entre o direito regional do MERCOSUL e o direito comunitário europeu. Acerca desse tema, julgue os itens subsequentes, relativos ao direito de integração e ao MERCOSUL.
144. O MERCOSUL garante, de forma semelhante à União Europeia, uma união econômica, monetária e política entre países.
145. A adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros Estados é um dos objetivos da criação do MERCOSUL.
RESPOSTA: 144. Errado; 145. Correto.
2ª Aula – DIP II:
(Advogado da União – AGU/2008)
No Direito Internacional, há necessidade de previsões normativas para os períodos pacíficos e para os períodos turbulentos de conflitos e litígios. A Carta das Nações Unidas e outras convenções internacionais procuram tratar dos mecanismos de resolução de conflitos, bem como disciplinam a ética dos conflitos bélicos e a efetiva proteção dos direitos humanos em ocasiões de conflitos externos ou internos. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir, relativos à jurisdição internacional, aos conflitos internacionais e ao direito penal internacional.
148. Na Carta das Nações Unidas (Carta de São Francisco), admite-se que qualquer litígio seja resolvido por meio de conflitos armados, desde que autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU.
149. No Direito Internacional, há muito tempo, existem as cortes que atuam para a solução de conflitos entre os Estados, como é o caso da Corte Internacional de Justiça. Entretanto, há fato inédito, no Direito Internacional, quanto à criminalização supranacional de determinadas condutas, com a criação do TPI, tribunal ad hoc destinado à punição de pessoas que pratiquem, em período de paz ou de guerra, qualquer crime contra indivíduos.
150. A ONU deve exercer papel relevante na resolução de conflitos, podendo, inclusive, praticar ação coercitiva para a busca da paz.
RESPOSTA: 148. Errado; 149. Errado; 150. Correto.
3ª Aula – DIP I:
(Procurador do BACEN/2009):
A respeito do princípio do uti possidetis é correto afirmar que:
a) foi aplicado apenas no processo de descolonização da Ásia.
b) não impede que se regulamentem fronteiras por meio de tratado.
c) está presente em tratados internacionais, mas a Corte Internacional de Justiça nunca se referiu a ele.
d) não se aplica a casos de disputas de fronteiras quando estas forem definidas por rios.
e) é típica norma jus cogens.
RESPOSTA: Alternativa B.
3ª Aula – DIP II:
(IRBr/2010)
Considera-se que a organização internacional — em sentido moderno — surgiu no século XIX, com a Administração Geral de Concessão da Navegação do Reno. Desde então, as organizações internacionais alcançaram importância inegável na vida contemporânea, a ponto de se afirmar que não há atividade humana que não seja — direta ou indiretamente — influenciada pelo trabalho de, pelo menos, uma organização internacional. À luz das normas de direito internacional aplicáveis ao tema, julgue C ou E.
1. Em atendimento ao princípio da igualdade soberana dos Estados, toda decisão de uma organização internacional deve ser adotada por unanimidade ou consenso.
2. O MERCOSUL é uma organização dotada de personalidade jurídica de direito internacional.
3. O tratado constitutivo de uma organização internacional está sujeito às normas da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969).
4. Todos os atos adotados no seio de uma organização internacional são juridicamente obrigatórios para seus Estados-membros; caso violados, podem acarretar a responsabilidade internacional do Estado.
RESPOSTAS: 1. Errado; 2. Correto; 3. Correto; 4. Errado.
4ª Aula – DIP I:
(ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR/2002)
Não constitutem fontes do Direito Internacional Público, segundo o Estatuto da Corte Internacional de Justiça:
a) a jurisprudência internacional.
b) o costume internacional.
c) os principios gerais de Direito.
d) os usos e práticas do comércio internacional.
e) as convenções internacionais.
RESPOSTA: Alternativa D.
4ª Aula – DIP II:
(OAB-RJ 2007)
A Corte Internacional de Justiça tem uma competência contenciosa e uma competência consultiva. Na primeira, somente podem ser partes perante a Corte:
a) Organizações internacionais intergovernamentais.
b) Estados.
c) Empresas internacionais e pessoas privadas.
d) Organizações Não-Governamentais.
RESPOSTA: Alternativa B.
5ª Aula – DIP I:
(OAB-RJ 2007)
A violação de um tratado multilateral por um dos contratantes autoriza as outras partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução do tratado, no todo ou em parte, ou a extinguirem o tratado. Entretanto, tais regras não se aplicam às disposições sobre:
a) A proteção contra a poluição do meio ambiente.
b) A proteção da pessoa humana, contidas em tratados de caráter humanitário.
c) A solidariedade internacional com a prática de atos de terrorismo.
d) Privilégios e imunidades dos Estados Soberanos.
RESPOSTA: Alternativa B.
5ª Aula – DIP II:
(Procurador do BACEN/2001)
Segundo a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU), a Corte Internacional de Justiça:
a) É o único órgão judiciário das Nações Unidas.
b) Tem competência para julgar todas as questões que as partes lhe submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta da ONU ou em tratados e convenções em vigor.
c) Emitirá parecer consultivo, a pedido da Assembleia-Geral ou do Conselho de Segurança, sobre qualquer questão de ordem jurídica ou política.
d) Só julga litígios que envolvam Estados e/ou organizações internacionais.
e) Tem quinze membros eleitos por nove anos sem possibilidade de reeleição.
RESPOSTA: Alternativa B.
__________
1ª Aula – DIP I:
(IRBr/2008)
“O Rei de Argos, Danao, tinha cinqüenta filhas. Ao serem forçadas ao matrimônio, elas seguiram o plano ardiloso de um assassinato coletivo dos maridos. Morreram quase todos, menos Linceu, poupado pela arrependida Hipernestra. Condenadas pela engenhosa justiça dos deuses, as danaides tinham de encher o tonel sem fundo para toda a eternidade. Viraram símbolo de trabalho sem fim e do desejo insaciável. As irmãs transmutaram-se em expressão latina: danaidum dolium — o tonel das danaides”.
KARNAL, Leandro. Introdução: um certo tonel. In: KARNAL, Leandro e FREITAS NETO, José Alves de (Org.). A escrita da memória: interpretações e análises documentais. São Paulo: Instituto Cultural Banco Santos, 2004, p. 13.
Tendo em atenção as relações interestatais dos dias de hoje, disserte a respeito da seguinte afirmação: "Defender a existência do direito das gentes parece ser o permanente danaidum dolium dos internacionalistas: por mais que se aprofunde o tema, ele nunca se esgota".
Extensão máxima: 60 linhas
(valor: 30 pontos)
1ª Aula – DIP II:
(IRBr/2008)
É considerado divisor de águas no direito internacional o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça no caso Reparação de danos a serviço das Nações Unidas acerca da morte de Folke de Bernadotte, mediador que, no exercício de suas funções, foi assassinado por extremistas israelenses em Jerusalém, em 1948. Essa consideração justifica-se porque o parecer
a) declarou a existência da Palestina como território insurgente.
b) homologou a jurisdição penal do Estado de Israel.
c) incorporou o princípio da legítima defesa internacional.
d) reconheceu a personalidade jurídica das organizações internacionais.
e) consagrou o pacifismo e a não-violência como deveres jurídicos.
RESPOSTA: alternativa D.
2ª Aula – DIP I:
(Advogado da União – AGU/2008)
Pode-se fazer um paralelo entre a União Europeia e o MERCOSUL. Ambas as comunidades originam-se de processos de integração e buscam normatizar as suas relações por meio de um direito de integração. Entretanto, há enormes diferenças entre o direito regional do MERCOSUL e o direito comunitário europeu. Acerca desse tema, julgue os itens subsequentes, relativos ao direito de integração e ao MERCOSUL.
144. O MERCOSUL garante, de forma semelhante à União Europeia, uma união econômica, monetária e política entre países.
145. A adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros Estados é um dos objetivos da criação do MERCOSUL.
RESPOSTA: 144. Errado; 145. Correto.
2ª Aula – DIP II:
(Advogado da União – AGU/2008)
No Direito Internacional, há necessidade de previsões normativas para os períodos pacíficos e para os períodos turbulentos de conflitos e litígios. A Carta das Nações Unidas e outras convenções internacionais procuram tratar dos mecanismos de resolução de conflitos, bem como disciplinam a ética dos conflitos bélicos e a efetiva proteção dos direitos humanos em ocasiões de conflitos externos ou internos. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir, relativos à jurisdição internacional, aos conflitos internacionais e ao direito penal internacional.
148. Na Carta das Nações Unidas (Carta de São Francisco), admite-se que qualquer litígio seja resolvido por meio de conflitos armados, desde que autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU.
149. No Direito Internacional, há muito tempo, existem as cortes que atuam para a solução de conflitos entre os Estados, como é o caso da Corte Internacional de Justiça. Entretanto, há fato inédito, no Direito Internacional, quanto à criminalização supranacional de determinadas condutas, com a criação do TPI, tribunal ad hoc destinado à punição de pessoas que pratiquem, em período de paz ou de guerra, qualquer crime contra indivíduos.
150. A ONU deve exercer papel relevante na resolução de conflitos, podendo, inclusive, praticar ação coercitiva para a busca da paz.
RESPOSTA: 148. Errado; 149. Errado; 150. Correto.
3ª Aula – DIP I:
(Procurador do BACEN/2009):
A respeito do princípio do uti possidetis é correto afirmar que:
a) foi aplicado apenas no processo de descolonização da Ásia.
b) não impede que se regulamentem fronteiras por meio de tratado.
c) está presente em tratados internacionais, mas a Corte Internacional de Justiça nunca se referiu a ele.
d) não se aplica a casos de disputas de fronteiras quando estas forem definidas por rios.
e) é típica norma jus cogens.
RESPOSTA: Alternativa B.
3ª Aula – DIP II:
(IRBr/2010)
Considera-se que a organização internacional — em sentido moderno — surgiu no século XIX, com a Administração Geral de Concessão da Navegação do Reno. Desde então, as organizações internacionais alcançaram importância inegável na vida contemporânea, a ponto de se afirmar que não há atividade humana que não seja — direta ou indiretamente — influenciada pelo trabalho de, pelo menos, uma organização internacional. À luz das normas de direito internacional aplicáveis ao tema, julgue C ou E.
1. Em atendimento ao princípio da igualdade soberana dos Estados, toda decisão de uma organização internacional deve ser adotada por unanimidade ou consenso.
2. O MERCOSUL é uma organização dotada de personalidade jurídica de direito internacional.
3. O tratado constitutivo de uma organização internacional está sujeito às normas da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969).
4. Todos os atos adotados no seio de uma organização internacional são juridicamente obrigatórios para seus Estados-membros; caso violados, podem acarretar a responsabilidade internacional do Estado.
RESPOSTAS: 1. Errado; 2. Correto; 3. Correto; 4. Errado.
4ª Aula – DIP I:
(ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR/2002)
Não constitutem fontes do Direito Internacional Público, segundo o Estatuto da Corte Internacional de Justiça:
a) a jurisprudência internacional.
b) o costume internacional.
c) os principios gerais de Direito.
d) os usos e práticas do comércio internacional.
e) as convenções internacionais.
RESPOSTA: Alternativa D.
4ª Aula – DIP II:
(OAB-RJ 2007)
A Corte Internacional de Justiça tem uma competência contenciosa e uma competência consultiva. Na primeira, somente podem ser partes perante a Corte:
a) Organizações internacionais intergovernamentais.
b) Estados.
c) Empresas internacionais e pessoas privadas.
d) Organizações Não-Governamentais.
RESPOSTA: Alternativa B.
5ª Aula – DIP I:
(OAB-RJ 2007)
A violação de um tratado multilateral por um dos contratantes autoriza as outras partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução do tratado, no todo ou em parte, ou a extinguirem o tratado. Entretanto, tais regras não se aplicam às disposições sobre:
a) A proteção contra a poluição do meio ambiente.
b) A proteção da pessoa humana, contidas em tratados de caráter humanitário.
c) A solidariedade internacional com a prática de atos de terrorismo.
d) Privilégios e imunidades dos Estados Soberanos.
RESPOSTA: Alternativa B.
5ª Aula – DIP II:
(Procurador do BACEN/2001)
Segundo a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU), a Corte Internacional de Justiça:
a) É o único órgão judiciário das Nações Unidas.
b) Tem competência para julgar todas as questões que as partes lhe submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta da ONU ou em tratados e convenções em vigor.
c) Emitirá parecer consultivo, a pedido da Assembleia-Geral ou do Conselho de Segurança, sobre qualquer questão de ordem jurídica ou política.
d) Só julga litígios que envolvam Estados e/ou organizações internacionais.
e) Tem quinze membros eleitos por nove anos sem possibilidade de reeleição.
RESPOSTA: Alternativa B.
sexta-feira, 29 de julho de 2011
Publicidade de Grupos de Pesquisa
Caros leitores,
gostaria de reservar este espaço para divulgar os grupos de pesquisa que integro, seja como supervisor ou como membro:
Grupo de Pesquisas em Direito Internacional (GPDI-FND/UFRJ): dirigido pelo Professor Doutor Sidney Guerra, aborda como linhas de pesquisa temas de Direitos Humanos e Direito Internacional Ambiental.
Núcleo de Estudos em Arbitragem e Comércio Internacional (NEACI/UFRJ): dirigido pelos Professores Doutores João Marcelo Assafim, Marcos Vinicius Torres e Frederico Simionato, aborda temas doutrinários da metéria e prepara a equipe da UFRJ para competições intelectuais no exterior.
Grupo de Pesquisas em Direito Empresarial e Propriedade Intelectual: dirigido pelo Professor Doutor João Marcelo Assafim, aborda as mais contemporâneas temáticas sobre Propriedade Industrial e Direito Econômico.
Grupo de Pesquisas em Direito Internacional Privado e Processo Internacional: dirigido pelo Professor Doutor Marcos Vinicius Torres, aborda dentre várias outras linhas de pesquisa temas de arbitragem e direito de família internacionais.
gostaria de reservar este espaço para divulgar os grupos de pesquisa que integro, seja como supervisor ou como membro:
Grupo de Pesquisas em Direito Internacional (GPDI-FND/UFRJ): dirigido pelo Professor Doutor Sidney Guerra, aborda como linhas de pesquisa temas de Direitos Humanos e Direito Internacional Ambiental.
Núcleo de Estudos em Arbitragem e Comércio Internacional (NEACI/UFRJ): dirigido pelos Professores Doutores João Marcelo Assafim, Marcos Vinicius Torres e Frederico Simionato, aborda temas doutrinários da metéria e prepara a equipe da UFRJ para competições intelectuais no exterior.
Grupo de Pesquisas em Direito Empresarial e Propriedade Intelectual: dirigido pelo Professor Doutor João Marcelo Assafim, aborda as mais contemporâneas temáticas sobre Propriedade Industrial e Direito Econômico.
Grupo de Pesquisas em Direito Internacional Privado e Processo Internacional: dirigido pelo Professor Doutor Marcos Vinicius Torres, aborda dentre várias outras linhas de pesquisa temas de arbitragem e direito de família internacionais.
quinta-feira, 21 de julho de 2011
Estudos sobre Direito Mercantil e Contratual Internacional
Caros leitores,
disponibiizarei, em primeira mão, parcela de um trabalho que passo a desenvolver em torno da temática do "Direito Mercantil e Contratual Internacional", que albergará as matérias de Direito do Comércio Internacional, Contratos Internacionais e Direito Econômico. Tal compõe o projeto desenvolvido na UFRJ de preparo para a maior competição de Arbitragem Comercial Internacional do mundo, em Viena, Áustria: o Willem Cornelius Vis International Commercial Arbitration Moot.
__________
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA PROVISÓRIA
ARAÚJO, Nádia de. Contratos Internacionais – Autonomia da Vontade, Mercosul e Convenções Internacionais. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Volume I. 15ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2010.
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro Volume III – Obrigações Contratuais e Extracontratuais. 23ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2009.
RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; JUNIOR, Irineu Galeski. Teoria Geral dos Contratos – Contratos Empresariais e Análise Econômica. São Paulo: Editora Campus-Elsevier, 2009.
SHAW, Malcolm. International Law. Sixth Edition. United Kingdom, Cambridge University Press, 2008. (OBS: há tradução pela Editora Martins Fontes).
TOMAZETTE, Marlon. Comércio Internacional & Medidas Antidumping. Curitiba: Editora Juruá, 2008.
__________
A união entre as Ciências Jurídicas e o fenômeno do Comércio Internacional há muito fascina os estudiosos. Partindo-se de uma noção filosófica materialista da história da humanidade (tal como preconizou Karl Marx), verifica-se que a incessante busca pela acumulação de capital cercou a civilização euro-africana ocidental desde a Antiguidade. Neste desiderato, os períodos históricos do Renascimento Cultural (com o Capitalismo Comercial estabelecido pelas Grandes Navegações) originou a estrutura empresarial atual. Muito diferente daquela época, com grandes conglomerados e empresas transnacionais, o mundo jurídico cada vez mais necessita de estudiosos e causídicos versados no Direito Mercantil Internacional, matéria que tenciono discutir ao longo desses estudos.
O primeiro tópico a ser estudado é o da aplicabilidade dos Meios Alternativos para Resolução de Controvérsias (ADR – Alternative Dispute Resolutions) no comércio exterior entre empresas. Expressão criada por Frank Sander em 1976, a doutrina atual tem cada vez mais redesignado esta sigla como Appropriate Dispute Resolutions, visto que as partes selecionam o mais apropriado método para solução de suas controvérsias dentre a ampla gama existente na atualidade. Lembre-se sempre que Comércio Exterior é expressão utilizada para a prática, enquanto Comércio Internacional nos remete às expressões jurídicas dessa práxis; logo a denominação Direito do Comércio Internacional ou Direito Mercantil Internacional, como de minha preferência. Pois bem, cabe-nos neste estudo de cunho tecnológico (na maior acepção traduzida por Fábio Ulhoa Coelho) explicitar o conteúdo de cinco destes métodos, quais sejam: a Conciliação, a Mediação, a Arbitragem, o Construction Adjudication (CA) e o Expert Determination.
Na Conciliação, prima-se pela autocomposição (as partes solucionam pessoalmente a controvérsia), em que o conciliador aproxima as partes e as influencia a resolver a lide estabelecida sobre determinado bem da vida.
Na Mediação, o mediador aproxima as partes para que solucionem suas controvérsias, e exprime proposta pessoal de resolução. Neste curioso aspecto, os estudiosos digladiam-se sobre sua natureza jurídica: parcela afirma o primado pela autocomposição, enquanto outra preleciona segundo a heterocomposição.
Na Arbitragem, esta considerada pacificamente meio de resolução por heterocomposição (terceiro soluciona a controvérsia estabelecida pelas partes), a lide é composta perante o árbitro, que expõe decisão vinculante para ambos os litigantes. No Brasil, é regulada pela Lei Ordinária Federal 9307/1996; no sistema global, sofre influência marcante da Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional (UNCITRAL – United Nations Comission on International Trade Law).
disponibiizarei, em primeira mão, parcela de um trabalho que passo a desenvolver em torno da temática do "Direito Mercantil e Contratual Internacional", que albergará as matérias de Direito do Comércio Internacional, Contratos Internacionais e Direito Econômico. Tal compõe o projeto desenvolvido na UFRJ de preparo para a maior competição de Arbitragem Comercial Internacional do mundo, em Viena, Áustria: o Willem Cornelius Vis International Commercial Arbitration Moot.
__________
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA PROVISÓRIA
ARAÚJO, Nádia de. Contratos Internacionais – Autonomia da Vontade, Mercosul e Convenções Internacionais. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Volume I. 15ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2010.
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro Volume III – Obrigações Contratuais e Extracontratuais. 23ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2009.
RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; JUNIOR, Irineu Galeski. Teoria Geral dos Contratos – Contratos Empresariais e Análise Econômica. São Paulo: Editora Campus-Elsevier, 2009.
SHAW, Malcolm. International Law. Sixth Edition. United Kingdom, Cambridge University Press, 2008. (OBS: há tradução pela Editora Martins Fontes).
TOMAZETTE, Marlon. Comércio Internacional & Medidas Antidumping. Curitiba: Editora Juruá, 2008.
__________
A união entre as Ciências Jurídicas e o fenômeno do Comércio Internacional há muito fascina os estudiosos. Partindo-se de uma noção filosófica materialista da história da humanidade (tal como preconizou Karl Marx), verifica-se que a incessante busca pela acumulação de capital cercou a civilização euro-africana ocidental desde a Antiguidade. Neste desiderato, os períodos históricos do Renascimento Cultural (com o Capitalismo Comercial estabelecido pelas Grandes Navegações) originou a estrutura empresarial atual. Muito diferente daquela época, com grandes conglomerados e empresas transnacionais, o mundo jurídico cada vez mais necessita de estudiosos e causídicos versados no Direito Mercantil Internacional, matéria que tenciono discutir ao longo desses estudos.
O primeiro tópico a ser estudado é o da aplicabilidade dos Meios Alternativos para Resolução de Controvérsias (ADR – Alternative Dispute Resolutions) no comércio exterior entre empresas. Expressão criada por Frank Sander em 1976, a doutrina atual tem cada vez mais redesignado esta sigla como Appropriate Dispute Resolutions, visto que as partes selecionam o mais apropriado método para solução de suas controvérsias dentre a ampla gama existente na atualidade. Lembre-se sempre que Comércio Exterior é expressão utilizada para a prática, enquanto Comércio Internacional nos remete às expressões jurídicas dessa práxis; logo a denominação Direito do Comércio Internacional ou Direito Mercantil Internacional, como de minha preferência. Pois bem, cabe-nos neste estudo de cunho tecnológico (na maior acepção traduzida por Fábio Ulhoa Coelho) explicitar o conteúdo de cinco destes métodos, quais sejam: a Conciliação, a Mediação, a Arbitragem, o Construction Adjudication (CA) e o Expert Determination.
Na Conciliação, prima-se pela autocomposição (as partes solucionam pessoalmente a controvérsia), em que o conciliador aproxima as partes e as influencia a resolver a lide estabelecida sobre determinado bem da vida.
Na Mediação, o mediador aproxima as partes para que solucionem suas controvérsias, e exprime proposta pessoal de resolução. Neste curioso aspecto, os estudiosos digladiam-se sobre sua natureza jurídica: parcela afirma o primado pela autocomposição, enquanto outra preleciona segundo a heterocomposição.
Na Arbitragem, esta considerada pacificamente meio de resolução por heterocomposição (terceiro soluciona a controvérsia estabelecida pelas partes), a lide é composta perante o árbitro, que expõe decisão vinculante para ambos os litigantes. No Brasil, é regulada pela Lei Ordinária Federal 9307/1996; no sistema global, sofre influência marcante da Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional (UNCITRAL – United Nations Comission on International Trade Law).
segunda-feira, 4 de julho de 2011
A Incorporação de Comunidades Subdesenvolvidas no Espaço Urbano - Perspectivas Locais e Internacionais (Excerto)
Segue excerto de artigo científico em construção, sobre Direito Internacional Urbanístico e Desenvolvimento Social, baseado em minha participação junto ao V Fórum Urbano Mundial em 2010.
1. Introdução
A Sociedade Internacional se apresenta para seus estudiosos como dinâmica e aberta, o que nos leva a crer que possui elementos de isonomia entre seus diversos atores. Estados e Organizações Internacionais, segundo a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1986, são entidades capazes de celebrar tratados, o que lhes confere personalidade jurídica internacional. Seguindo opiniões expedidas por abalizada doutrina , notadamente após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e com o desenvolvimento da disciplina dos Direitos Humanos no sistema internacional durante o século passado, o Indivíduo restou caracterizado como um terceiro sujeito de Direito Internacional , o qual, embora não possa firmar tratado, torna-se o principal destinatário das normas jurídicas internacionais e possui disciplina própria de proteção da sua integridade física, moral e intelectual, inspirando inúmeros documentos legislativos posteriores à Declaração de 1948 no direito interno dos Estados componentes da Sociedade Internacional.
Entretanto, infelizmente se verificam no cenário global com freqüência desvios e violações das normas jurídicas internacionais atinentes aos Direitos Humanos. Seja em Estados possuidores de grande desenvolvimento econômico e social, seja em países não detentores de tais conquistas , constantes se constituem as violações à disciplina humanística. Na República Federativa do Brasil, foco de nosso estudo, observa-se constantemente violações aos Direitos Humanos por parte das autoridades públicas detentoras do Poder de Polícia, em que muitas vezes ocorre o denominado Abuso de Poder a fim de angariar vantagens em detrimento da população carente de recursos, número expressivo neste país. Esta é a lamentável realidade existente nas comunidades subdesenvolvidas inseridas no espaço urbano das cidades brasileiras, notadamente no estado-membro do Rio de Janeiro (as quais são denominadas popularmente de favelas). O objetivo do presente estudo é a demonstração da possibilidade de incorporação no espaço urbano das comunidades cuja maioria da população é composta por sujeitos de baixa renda e reduzido status econômico-social, seja através de políticas públicas de desenvolvimento de articulação das comunidades carentes ao ambiente citadino (como o projeto Favela-Bairro, implantado na cidade do Rio de Janeiro no final do século passado e início do atual), seja através de movimentos da sociedade civil (personificados pelas Organizações Não-Governamentais – ONG’s) com finalidades reivindicatórias para o desenvolvimento estrutural destes ambientes degradados.
Atualmente, no Estado brasileiro desenvolvem-se as atividades do Ministério das Cidades, órgão cuja teleologia se encontra voltada para a estruturação de políticas para o desenvolvimento urbano, espraiadas nos entes federativos (em nível municipal, estadual e nacional), cujos propósitos possuem como último nível assegurar o Direito de Habitação do indivíduo (considerado, segundo a recorrente classificação de Norberto Bobbio , um direito fundamental de segunda dimensão). O que nos leva, certamente, à atividade desenvolvida pelo Ministério das Cidades no sentido de formular diretrizes para a incorporação de espaços não urbanizados ou semiurbanos, fenômeno comum no estado-membro do Rio de Janeiro.
2. Breves Considerações Históricas e Axiológicas
Formulando juízo de valor sobre a realidade local e peculiar do Rio de Janeiro, verifico que, principalmente no decorrer do século passado, ocorre uma involução no espaço urbano carioca, devido a cada vez maior concentração de comunidades semiurbanas no espaço citadino. Denominadas favelas (palavra derivada do nome de uma espécie vegetal que crescia na atual região da Providência, na capital do estado-membro, atualmente tomada por uma grande comunidade carente de recursos urbanos), estas comunidades por vezes são consideradas prejudiciais pelo restante da população e agentes públicos, pois além das complicações ambientais resultantes da irregularidade das construções, o risco social presente em tais comunidades certamente constitui grande problemática em matéria de segurança pública, interferindo em outros direitos fundamentais. Em nível maior de complicações, realizando a técnica da ponderação de interesses, capaz de solucionar conflitos entre princípios e direitos fundamentais, considera-se patente a prioridade do direito à vida e segurança frente à habitação (ainda mais pelo fato da habitação em tais comunidades não ser considerada digna, haja vista a ausência de saneamento básico e estruturação urbana na quase totalidade das comunidades carentes não incorporadas ao cenário citadino).
Certamente, poderíamos afirmar que um grande esforço conjunto em prol da incorporação das comunidades carentes no espaço urbano, envolvendo o Poder Público, Sociedade Civil e Organizações do Terceiro Setor (denominadas por abalizada doutrina, desde que institucionalizadas e com auxílio do Poder Público, Organizações da Sociedade Civil para o Interesse Público - OSCIP ) seria o bastante para a resolução de tão lamentável fenômeno no Brasil. Porém, hodiernamente concebe-se que a maioria dos problemas sociais é, acima de tudo, proveniente de uma desestabilidade política, ou reflexo da mesma. A realidade pátria demonstra que o século XX foi prolífero em transtornos no sistema político brasileiro. Desde a problemática social envolvendo a urbanização do Rio de Janeiro na década de 1920, promovida pelo prefeito Pereira Passos (quando este ainda era capital da República dos Estados Unidos do Brazil), conhecida por Revolta da Vacina (devido a apenas um de seus lamentáveis episódios), passando pelos regimes centralizadores de Getúlio Vargas (1930-1945) e no transcorrer dos governos militares (1964-1985), as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano foram relegadas perante opções ditas desenvolvimentistas (infelizmente marcadas sob o signo do que se concebe por Populismo em matéria de estudos da política nacional), as quais em sua maioria fracassaram flagrantemente (e.g. a construção da Rodovia Transamazônica), ou se constituíram em desnecessário dispêndio de recursos para a época (e.g. as construções da Usina Hidrelétrica de Itaipu, da Usina Nuclear de Angra dos Reis, da Ponte Rio-Niterói, etc.), o qual poderia ser reinvestido em outros setores ou projetos consistentes de urbanização.
Após esta breve análise, pode-se afirmar de plano que o Estado brasileiro lamentavelmente realizou inexpressivas iniciativas para resolução das questões ligadas à desordenada ocupação urbana, gerando um déficit social dantesco, como se pode facilmente verificar na cidade do Rio de Janeiro, onde significativos aglomerados semiurbanos convivem (ou, em melhores palavras, conflitam) com redes populacionais organizadas. Neste desiderato, o maior exemplo a ser citado é o da favela da Rocinha, considerada por muitos anos a maior comunidade carente da América Latina , em que parcela desta se encontra localizada em uma das áreas mais nobres da capital fluminense, o bairro de São Conrado, cujo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) possui um dos mais elevados valores do município. Tal realidade merece destaque frente à matéria da inclusão social, presente na agenda de diversos organismos intergovernamentais, notadamente a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA).
NOTAS:
1. Cf. MELO, Celso Duvivier de Albuquerque, Curso de Direito Internacional Público, Rio de Janeiro, Editora Renovar, 2004.
2. Cf. REZEK, Francisco José, Direito Internacional Público – Curso Elementar, Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 2008, o qual se posiciona no sentido de uma interpretação estrita da Convenção de Viena de 1986, a fim de considerar apenas os Estados e Organizações Internacionais como concretos sujeitos de Direito Internacional, discordando do entendimento majoritário da incorporação de personalidade jurídica internacional para o Indivíduo, devido à evolução da disciplina dos Direitos Humanos.
3. Nos estudos de política internacional, denominam-se tais entes de “Países de Menor Desenvolvimento Relativo (PMDR)”. Cf. PECEQUILO, Cristina Soreanu, Política Internacional, Série Manuais do Instituto Rio Branco, Brasília, Editora Fundação Alexandre de Gusmão, 2008.
4. BOBBIO, Norberto, A Era dos Direitos, Edição traduzida para a Língua Portuguesa, 2008.
5. Cf., para maiores esclarecimentos neste desiderato, BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Editora Malheiros, 2010.
6. “A Rocinha chegou a ser conhecida como a maior favela da América Latina nos anos 80. Segundo cálculos da época, cerca de 200 mil pessoas moravam no morro. Os números atuais, mais realistas, colocam a Rocinha ainda como uma das maiores favelas do Rio com pouco mais de 50 mil moradores (Censo 2000)”. Disponível virtualmente:. Acesso em 16 de junho de 2011.
1. Introdução
A Sociedade Internacional se apresenta para seus estudiosos como dinâmica e aberta, o que nos leva a crer que possui elementos de isonomia entre seus diversos atores. Estados e Organizações Internacionais, segundo a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1986, são entidades capazes de celebrar tratados, o que lhes confere personalidade jurídica internacional. Seguindo opiniões expedidas por abalizada doutrina , notadamente após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e com o desenvolvimento da disciplina dos Direitos Humanos no sistema internacional durante o século passado, o Indivíduo restou caracterizado como um terceiro sujeito de Direito Internacional , o qual, embora não possa firmar tratado, torna-se o principal destinatário das normas jurídicas internacionais e possui disciplina própria de proteção da sua integridade física, moral e intelectual, inspirando inúmeros documentos legislativos posteriores à Declaração de 1948 no direito interno dos Estados componentes da Sociedade Internacional.
Entretanto, infelizmente se verificam no cenário global com freqüência desvios e violações das normas jurídicas internacionais atinentes aos Direitos Humanos. Seja em Estados possuidores de grande desenvolvimento econômico e social, seja em países não detentores de tais conquistas , constantes se constituem as violações à disciplina humanística. Na República Federativa do Brasil, foco de nosso estudo, observa-se constantemente violações aos Direitos Humanos por parte das autoridades públicas detentoras do Poder de Polícia, em que muitas vezes ocorre o denominado Abuso de Poder a fim de angariar vantagens em detrimento da população carente de recursos, número expressivo neste país. Esta é a lamentável realidade existente nas comunidades subdesenvolvidas inseridas no espaço urbano das cidades brasileiras, notadamente no estado-membro do Rio de Janeiro (as quais são denominadas popularmente de favelas). O objetivo do presente estudo é a demonstração da possibilidade de incorporação no espaço urbano das comunidades cuja maioria da população é composta por sujeitos de baixa renda e reduzido status econômico-social, seja através de políticas públicas de desenvolvimento de articulação das comunidades carentes ao ambiente citadino (como o projeto Favela-Bairro, implantado na cidade do Rio de Janeiro no final do século passado e início do atual), seja através de movimentos da sociedade civil (personificados pelas Organizações Não-Governamentais – ONG’s) com finalidades reivindicatórias para o desenvolvimento estrutural destes ambientes degradados.
Atualmente, no Estado brasileiro desenvolvem-se as atividades do Ministério das Cidades, órgão cuja teleologia se encontra voltada para a estruturação de políticas para o desenvolvimento urbano, espraiadas nos entes federativos (em nível municipal, estadual e nacional), cujos propósitos possuem como último nível assegurar o Direito de Habitação do indivíduo (considerado, segundo a recorrente classificação de Norberto Bobbio , um direito fundamental de segunda dimensão). O que nos leva, certamente, à atividade desenvolvida pelo Ministério das Cidades no sentido de formular diretrizes para a incorporação de espaços não urbanizados ou semiurbanos, fenômeno comum no estado-membro do Rio de Janeiro.
2. Breves Considerações Históricas e Axiológicas
Formulando juízo de valor sobre a realidade local e peculiar do Rio de Janeiro, verifico que, principalmente no decorrer do século passado, ocorre uma involução no espaço urbano carioca, devido a cada vez maior concentração de comunidades semiurbanas no espaço citadino. Denominadas favelas (palavra derivada do nome de uma espécie vegetal que crescia na atual região da Providência, na capital do estado-membro, atualmente tomada por uma grande comunidade carente de recursos urbanos), estas comunidades por vezes são consideradas prejudiciais pelo restante da população e agentes públicos, pois além das complicações ambientais resultantes da irregularidade das construções, o risco social presente em tais comunidades certamente constitui grande problemática em matéria de segurança pública, interferindo em outros direitos fundamentais. Em nível maior de complicações, realizando a técnica da ponderação de interesses, capaz de solucionar conflitos entre princípios e direitos fundamentais, considera-se patente a prioridade do direito à vida e segurança frente à habitação (ainda mais pelo fato da habitação em tais comunidades não ser considerada digna, haja vista a ausência de saneamento básico e estruturação urbana na quase totalidade das comunidades carentes não incorporadas ao cenário citadino).
Certamente, poderíamos afirmar que um grande esforço conjunto em prol da incorporação das comunidades carentes no espaço urbano, envolvendo o Poder Público, Sociedade Civil e Organizações do Terceiro Setor (denominadas por abalizada doutrina, desde que institucionalizadas e com auxílio do Poder Público, Organizações da Sociedade Civil para o Interesse Público - OSCIP ) seria o bastante para a resolução de tão lamentável fenômeno no Brasil. Porém, hodiernamente concebe-se que a maioria dos problemas sociais é, acima de tudo, proveniente de uma desestabilidade política, ou reflexo da mesma. A realidade pátria demonstra que o século XX foi prolífero em transtornos no sistema político brasileiro. Desde a problemática social envolvendo a urbanização do Rio de Janeiro na década de 1920, promovida pelo prefeito Pereira Passos (quando este ainda era capital da República dos Estados Unidos do Brazil), conhecida por Revolta da Vacina (devido a apenas um de seus lamentáveis episódios), passando pelos regimes centralizadores de Getúlio Vargas (1930-1945) e no transcorrer dos governos militares (1964-1985), as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano foram relegadas perante opções ditas desenvolvimentistas (infelizmente marcadas sob o signo do que se concebe por Populismo em matéria de estudos da política nacional), as quais em sua maioria fracassaram flagrantemente (e.g. a construção da Rodovia Transamazônica), ou se constituíram em desnecessário dispêndio de recursos para a época (e.g. as construções da Usina Hidrelétrica de Itaipu, da Usina Nuclear de Angra dos Reis, da Ponte Rio-Niterói, etc.), o qual poderia ser reinvestido em outros setores ou projetos consistentes de urbanização.
Após esta breve análise, pode-se afirmar de plano que o Estado brasileiro lamentavelmente realizou inexpressivas iniciativas para resolução das questões ligadas à desordenada ocupação urbana, gerando um déficit social dantesco, como se pode facilmente verificar na cidade do Rio de Janeiro, onde significativos aglomerados semiurbanos convivem (ou, em melhores palavras, conflitam) com redes populacionais organizadas. Neste desiderato, o maior exemplo a ser citado é o da favela da Rocinha, considerada por muitos anos a maior comunidade carente da América Latina , em que parcela desta se encontra localizada em uma das áreas mais nobres da capital fluminense, o bairro de São Conrado, cujo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) possui um dos mais elevados valores do município. Tal realidade merece destaque frente à matéria da inclusão social, presente na agenda de diversos organismos intergovernamentais, notadamente a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA).
NOTAS:
1. Cf. MELO, Celso Duvivier de Albuquerque, Curso de Direito Internacional Público, Rio de Janeiro, Editora Renovar, 2004.
2. Cf. REZEK, Francisco José, Direito Internacional Público – Curso Elementar, Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 2008, o qual se posiciona no sentido de uma interpretação estrita da Convenção de Viena de 1986, a fim de considerar apenas os Estados e Organizações Internacionais como concretos sujeitos de Direito Internacional, discordando do entendimento majoritário da incorporação de personalidade jurídica internacional para o Indivíduo, devido à evolução da disciplina dos Direitos Humanos.
3. Nos estudos de política internacional, denominam-se tais entes de “Países de Menor Desenvolvimento Relativo (PMDR)”. Cf. PECEQUILO, Cristina Soreanu, Política Internacional, Série Manuais do Instituto Rio Branco, Brasília, Editora Fundação Alexandre de Gusmão, 2008.
4. BOBBIO, Norberto, A Era dos Direitos, Edição traduzida para a Língua Portuguesa, 2008.
5. Cf., para maiores esclarecimentos neste desiderato, BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Editora Malheiros, 2010.
6. “A Rocinha chegou a ser conhecida como a maior favela da América Latina nos anos 80. Segundo cálculos da época, cerca de 200 mil pessoas moravam no morro. Os números atuais, mais realistas, colocam a Rocinha ainda como uma das maiores favelas do Rio com pouco mais de 50 mil moradores (Censo 2000)”. Disponível virtualmente:
sábado, 4 de junho de 2011
Breve Estudo sobre a Ação de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE TEORIA DO DIREITO CAMBIÁRIO
Valendo-se dos clássicos estudos atinentes ao Direito Cambiário, três são os grandes princípios aplicáveis aos títulos de crédito: Cartularidade (pressupõe que deve ser apresentada a cártula, ou seja, o aparato físico e formal do título de crédito, para que ele possua existência no mundo jurídico), Literalidade (devem estar inscritas todas as informações necessárias para apresentação deste título, e consequente circulação) e Autonomia (é autônomo em relação às exceções pessoais eventualmente apresentadas no decorrer de sua circulação). Por isso que se afirma o brocardo de Vivante que o Título de Crédito é o documento necessário, para exercício do direito literal e autônomo nele mencionado.
A classificação dos títulos de crédito na doutrina do Direito Mercantil é baseada em quatro critérios, de acordo com Fábio Ulhôa Coelho: quanto ao modelo (títulos de modelo livre ou vinculado); quanto à estrutura (títulos de ordem de pagamento ou de promessa de pagamento); quanto à emissão (títulos causais, limitados ou não causais); e quanto à circulação (títulos à ordem e não à ordem).
Entretanto, relevante classificação enuncia a existência de títulos Nominativos e Ao Portador. Nos primeiros, há a menção expressa a um beneficiário, enquanto nos segundos qualquer que apresente o título poderá ser o beneficiário do crédito nele inscrito. Neste desiderato, subsiste o procedimento especial de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador, abaixo brevemente analisado.
2. ESPÉCIES DE AÇÕES DE TÍTULOS DE CRÉDITO AO PORTADOR
De acordo com o estudo de Daniel Amorim Assumpção Neves, há três diferentes demais judiciais para a solução de diferentes pretensões, relacionadas com a posse e propriedade de títulos ao portador, quais sejam: Ação de Reivindicação, quando se procura retomar título de crédito de possuidor conhecido; Ação de Substituição, quando se procura simplesmente substituir título de crédito destruído; e Ação de Anulação e Substituição, comumente quando se deseja retomar título de possuidor desconhecido, embora também haja a possibilidade deste ser conhecido, quando então o autor escolherá entre esta e a primeira espécie mencionada.
Entretanto, verifica-se que quanto à primeira espécie (Ação de Reivindicação), uníssona doutrina capitaneada por Humberto Theodoro Junior afirma que será utilizado o procedimento comum, e não o especial apresentado nos artigos 908 a 911 do Código de Processo Civil Brasileiro de 1973.
No que tange à Ação de Substituição de Títulos ao Portador, existe divergência doutrinária sobre qual o rito a ser aplicado às demandas dessa monta. Enquanto Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Francisco Mitidiero argumentam a possibilidade de aplicação do procedimento especial dos artigos 908 a 911 supramencionados, Alexandre Freitas Câmara defende a aplicação do rito comum ao presente feito. Em caso de destruição parcial do título de crédito ao portador, aplica-se o disposto no artigo 912 do diploma em comento.
3. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR
Nesta espécie de ação, o autor deseja substancialmente obter o título de crédito extraviado e coagir o devedor a formular nova cártula. Tal pleito anulatório impede o atual detentor do título, normalmente desconhecido pelo autor, de valer-se do mesmo para obrigar o devedor a realizar o pagamento. Tal procedimento, pois, é de natureza constitutiva negativa e condenatória, ao anular e substituir o título de paradeiro desconhecido.
A petição inicial deverá observar o disposto nos artigos 282 e 283 do Código Processual, além dos requisitos previstos no artigo 908, quais sejam: quantidade, espécie, valores, nominais dos títulos de crédito e atributos que os individualizam, época e lugar que os adquiriu, as circunstâncias em que os perdeu e em que período recebeu os últimos juros e dividendos.
O artigo 909 apresenta a possibilidade de intimação da bolsa de valores, a fim de que o título de crédito extraviado não mais possa ser posto em circulação; porém, exige-se por parte do magistrado cognição sumária a fim de se evitar a prematura extinção da demanda sem resolução do mérito, atinente à plausibilidade das alegações expendidas pelo autor. Formar-se-á litisconsórcio passivo necessário entre o detentor (conhecido ou não) e todos os demais interessados na demanda. Curiosa a nota de que o emitente do título (devedor) não integrará a demanda, devendo ser intimado tão somente para depositar em juízo o capital, bem como juros e dividendos vencidos ou vincendos, com supedâneo no artigo 908, II, do Código de Processo Civil.
Por fim, valendo-nos da Teoria dos Capítulos da Sentença, a sentença promanada pelo juízo terá pelo menos dois capítulos, a saber, o pedido de anulação e substituição do título de crédito objeto da demanda. Verifica-se que jamais o devedor será coagido a adimplir as verbas de sucumbência, em consideração de sua qualidade como mero terceiro interessado. Em caso de recusa na formulação de novo título, existe ainda a possibilidade do cabimento de ação cognitiva para declaração do débito no valor constante na cártula, de acordo com Assumpção Neves.
4. CONCLUSÃO
O procedimento especial de anulação e substituição de títulos de crédito ao portador tem se tornado cada vez mais raro no universo jurídico processual nacional; por este e outros motivos, o anteprojeto de novel Código de Processo Civil Brasileiro não contempla, da mesma forma que o atual, a ação brevemente analisada neste estudo.
No entanto, a relevância deste rito especial não se esgota com o mero desinteresse legislativo na matéria. Notadamente no campo do Direito Empresarial (igualmente denominado Mercantil e Comercial), o estudo do Direito Cambiário é de grande importância para o operador e estudioso deste ramo jurídico, em que pesem os novos paradigmas trazidos pelo advento da informática nas relações entre empresas nacionais e transnacionais.
Torna-se cada vez mais imperiosa a produção acadêmica na área processual, de forma notável com a futura promulgação de um novo Código de Processo Civil. Portanto, mister se reputa a evolução nas análises doutrinárias desta espécie de procedimento específico, a fim de que se possa engrandecer cada vez mais a disciplina Mercantil, mas, principalmente, do Direito Processual Civil pátrio.
Valendo-se dos clássicos estudos atinentes ao Direito Cambiário, três são os grandes princípios aplicáveis aos títulos de crédito: Cartularidade (pressupõe que deve ser apresentada a cártula, ou seja, o aparato físico e formal do título de crédito, para que ele possua existência no mundo jurídico), Literalidade (devem estar inscritas todas as informações necessárias para apresentação deste título, e consequente circulação) e Autonomia (é autônomo em relação às exceções pessoais eventualmente apresentadas no decorrer de sua circulação). Por isso que se afirma o brocardo de Vivante que o Título de Crédito é o documento necessário, para exercício do direito literal e autônomo nele mencionado.
A classificação dos títulos de crédito na doutrina do Direito Mercantil é baseada em quatro critérios, de acordo com Fábio Ulhôa Coelho: quanto ao modelo (títulos de modelo livre ou vinculado); quanto à estrutura (títulos de ordem de pagamento ou de promessa de pagamento); quanto à emissão (títulos causais, limitados ou não causais); e quanto à circulação (títulos à ordem e não à ordem).
Entretanto, relevante classificação enuncia a existência de títulos Nominativos e Ao Portador. Nos primeiros, há a menção expressa a um beneficiário, enquanto nos segundos qualquer que apresente o título poderá ser o beneficiário do crédito nele inscrito. Neste desiderato, subsiste o procedimento especial de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador, abaixo brevemente analisado.
2. ESPÉCIES DE AÇÕES DE TÍTULOS DE CRÉDITO AO PORTADOR
De acordo com o estudo de Daniel Amorim Assumpção Neves, há três diferentes demais judiciais para a solução de diferentes pretensões, relacionadas com a posse e propriedade de títulos ao portador, quais sejam: Ação de Reivindicação, quando se procura retomar título de crédito de possuidor conhecido; Ação de Substituição, quando se procura simplesmente substituir título de crédito destruído; e Ação de Anulação e Substituição, comumente quando se deseja retomar título de possuidor desconhecido, embora também haja a possibilidade deste ser conhecido, quando então o autor escolherá entre esta e a primeira espécie mencionada.
Entretanto, verifica-se que quanto à primeira espécie (Ação de Reivindicação), uníssona doutrina capitaneada por Humberto Theodoro Junior afirma que será utilizado o procedimento comum, e não o especial apresentado nos artigos 908 a 911 do Código de Processo Civil Brasileiro de 1973.
No que tange à Ação de Substituição de Títulos ao Portador, existe divergência doutrinária sobre qual o rito a ser aplicado às demandas dessa monta. Enquanto Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Francisco Mitidiero argumentam a possibilidade de aplicação do procedimento especial dos artigos 908 a 911 supramencionados, Alexandre Freitas Câmara defende a aplicação do rito comum ao presente feito. Em caso de destruição parcial do título de crédito ao portador, aplica-se o disposto no artigo 912 do diploma em comento.
3. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR
Nesta espécie de ação, o autor deseja substancialmente obter o título de crédito extraviado e coagir o devedor a formular nova cártula. Tal pleito anulatório impede o atual detentor do título, normalmente desconhecido pelo autor, de valer-se do mesmo para obrigar o devedor a realizar o pagamento. Tal procedimento, pois, é de natureza constitutiva negativa e condenatória, ao anular e substituir o título de paradeiro desconhecido.
A petição inicial deverá observar o disposto nos artigos 282 e 283 do Código Processual, além dos requisitos previstos no artigo 908, quais sejam: quantidade, espécie, valores, nominais dos títulos de crédito e atributos que os individualizam, época e lugar que os adquiriu, as circunstâncias em que os perdeu e em que período recebeu os últimos juros e dividendos.
O artigo 909 apresenta a possibilidade de intimação da bolsa de valores, a fim de que o título de crédito extraviado não mais possa ser posto em circulação; porém, exige-se por parte do magistrado cognição sumária a fim de se evitar a prematura extinção da demanda sem resolução do mérito, atinente à plausibilidade das alegações expendidas pelo autor. Formar-se-á litisconsórcio passivo necessário entre o detentor (conhecido ou não) e todos os demais interessados na demanda. Curiosa a nota de que o emitente do título (devedor) não integrará a demanda, devendo ser intimado tão somente para depositar em juízo o capital, bem como juros e dividendos vencidos ou vincendos, com supedâneo no artigo 908, II, do Código de Processo Civil.
Por fim, valendo-nos da Teoria dos Capítulos da Sentença, a sentença promanada pelo juízo terá pelo menos dois capítulos, a saber, o pedido de anulação e substituição do título de crédito objeto da demanda. Verifica-se que jamais o devedor será coagido a adimplir as verbas de sucumbência, em consideração de sua qualidade como mero terceiro interessado. Em caso de recusa na formulação de novo título, existe ainda a possibilidade do cabimento de ação cognitiva para declaração do débito no valor constante na cártula, de acordo com Assumpção Neves.
4. CONCLUSÃO
O procedimento especial de anulação e substituição de títulos de crédito ao portador tem se tornado cada vez mais raro no universo jurídico processual nacional; por este e outros motivos, o anteprojeto de novel Código de Processo Civil Brasileiro não contempla, da mesma forma que o atual, a ação brevemente analisada neste estudo.
No entanto, a relevância deste rito especial não se esgota com o mero desinteresse legislativo na matéria. Notadamente no campo do Direito Empresarial (igualmente denominado Mercantil e Comercial), o estudo do Direito Cambiário é de grande importância para o operador e estudioso deste ramo jurídico, em que pesem os novos paradigmas trazidos pelo advento da informática nas relações entre empresas nacionais e transnacionais.
Torna-se cada vez mais imperiosa a produção acadêmica na área processual, de forma notável com a futura promulgação de um novo Código de Processo Civil. Portanto, mister se reputa a evolução nas análises doutrinárias desta espécie de procedimento específico, a fim de que se possa engrandecer cada vez mais a disciplina Mercantil, mas, principalmente, do Direito Processual Civil pátrio.
quarta-feira, 11 de maio de 2011
A Morte de Osama Bin Laden e sua Repercussão na Sociedade Internacional
Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden (1957-2011), conhecido no ocidente apenas por seu sobrenome, foi durante décadas o líder terrorista mais temido da humanidade. Chefiando a organização Al Qaeda, espalhou o terror do fundamentalismo religioso islâmico ao redor do planeta, e a consumação de seus esforços resultou na destruição de um dos maiores edifícios do mundo, o World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, resultando na morte de milhares de pessoas. Na última semana, porém, o governo estadunidense anunciou o que a opinião pública já considerava virtualmente impossível: a morte do líder terrorista, que estava oculto em uma pacífica cidade do Paquistão. Tal fato desperta inúmeros questionamentos perante o Direito Internacional, notadamente no campo dos Direitos Humanos e do equilíbrio existente no Sistema Global de Estados. Menciono nesta curta reflexão apenas dois de maior relevo.
O primeiro destes causa perplexidade: a ação militar empreendida pelos Estados Unidos da América ocorreu à revelia das normas internacionais e princípios do Direito Interestatal, notadamente no que concerne à prévia comunicação das atividades ao governo paquistanês. Verifica-se que talvez tal fato tenha ocorrido não devido a um posicionamento de impunidade e neoimperialismo estadunidense, mas de desconfiança, haja vista que o maior líder terrorista do globo estava residindo em uma pacífica cidade, muito próximo a uma instalação militar paquistanesa, e sua residência não se compunha de grandes aparatos de segurança como era esperado (tanto que os Seals norteamericanos em poucos minutos eliminaram o homem mais procurado do planeta. Esta conjunção de fatores certamente provocou desconfiança dos EUA a ponto de violar flagrantemente o Princípio da Não-Intervenção e a regra da obrigatoriedade de comunicação prévia.
O segundo ponto que desperta interesse se encontra no próprio ato do assassínio de Osama Bin Laden pelo governo dos EUA. Comenta-se que o líder terrorista se encontrava desarmado, e não oferecera resistência suficiente que justificasse sua morte pelas mãos dos militares estadunidenses. Embora as forças armadas deste país tenham informado que Bin Laden ofereceu resistência, é de notório conhecimento a truculência e as ações ao arrepio das normas internacionais de Direitos Humanos que estas forças de segurança perpetram mundo afora (novamente, em violação ao princípio da Não-Intervenção, não apenas nesta atividade militar, mas em diversas outras). Considerando que os EUA mantém uma política de não aderir ou ratificar a maioria dos tratados sobre Direitos Humanos, espera-se justificativa calcada no positivismo jurídico internacional.
Certamente, a morte de Osama Bin Laden não demonstrará vivo interesse da Sociedade Internacional na resolução dos questionamentos apresentados nesta breve reflexão, mas não se pode deixar de comunicar nosso protesto em prol de ações militares que observem verdadeiramente as normas de Direito Internacional Público, e se pautem pela efetividade dos Direitos Humanos no cenário global.
O primeiro destes causa perplexidade: a ação militar empreendida pelos Estados Unidos da América ocorreu à revelia das normas internacionais e princípios do Direito Interestatal, notadamente no que concerne à prévia comunicação das atividades ao governo paquistanês. Verifica-se que talvez tal fato tenha ocorrido não devido a um posicionamento de impunidade e neoimperialismo estadunidense, mas de desconfiança, haja vista que o maior líder terrorista do globo estava residindo em uma pacífica cidade, muito próximo a uma instalação militar paquistanesa, e sua residência não se compunha de grandes aparatos de segurança como era esperado (tanto que os Seals norteamericanos em poucos minutos eliminaram o homem mais procurado do planeta. Esta conjunção de fatores certamente provocou desconfiança dos EUA a ponto de violar flagrantemente o Princípio da Não-Intervenção e a regra da obrigatoriedade de comunicação prévia.
O segundo ponto que desperta interesse se encontra no próprio ato do assassínio de Osama Bin Laden pelo governo dos EUA. Comenta-se que o líder terrorista se encontrava desarmado, e não oferecera resistência suficiente que justificasse sua morte pelas mãos dos militares estadunidenses. Embora as forças armadas deste país tenham informado que Bin Laden ofereceu resistência, é de notório conhecimento a truculência e as ações ao arrepio das normas internacionais de Direitos Humanos que estas forças de segurança perpetram mundo afora (novamente, em violação ao princípio da Não-Intervenção, não apenas nesta atividade militar, mas em diversas outras). Considerando que os EUA mantém uma política de não aderir ou ratificar a maioria dos tratados sobre Direitos Humanos, espera-se justificativa calcada no positivismo jurídico internacional.
Certamente, a morte de Osama Bin Laden não demonstrará vivo interesse da Sociedade Internacional na resolução dos questionamentos apresentados nesta breve reflexão, mas não se pode deixar de comunicar nosso protesto em prol de ações militares que observem verdadeiramente as normas de Direito Internacional Público, e se pautem pela efetividade dos Direitos Humanos no cenário global.
quinta-feira, 31 de março de 2011
O Direito Internacional Ambiental e as Novas Perspectivas Globais
O Direito Internacional, no decorrer dos últimos séculos, vem se desenvolvendo como um dos mais promissores e prolíferos ramos das Ciências Jurídicas. Diversos são seus segmentos - e o elenco dos mesmos não seria cabível nesta sutil reflexão. Entretanto, nas décadas finais do século XX uma específica matéria da doutrina internacionalista chama cada vez mais a atenção de toda o Sistema Global de Estados: o Direito Internacional do Meio Ambiente, ou Direito Internacional Ambiental.
Concebido no transcorrer da década de 1970, notadamente com a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, na cidade de Estocolmo em junho de 1972, o Direito Internacional Ambiental congrega novos especialistas a cada dia, e sua relevância no atual cenário das Relações Internacionais se mostra decisivo, em uma realidade de degradação ambiental e preterimento da proteção ao meio ambiente em prol do desenvolvimento econômico, principalmente nos Estados em desenvolvimento crescente, como o Brasil.
Levando em consideração o Meio Ambiente humano em uma dimensão quadripartite - ecológico, artificial, cultural e profissional - a disciplina do Direito Internacional Ambiental tenciona resguardar o ser humano em sua totalidade, em qualquer lugar em que se encontre.
Porém, ainda deve ser desenvolvido o arcabouço teórico e legal que o embasa, pois a Sociedade Internacional reclama maior estruturação jurídica em matéria ambiental. É mister, pois, que os organismos internacionais estratégicos (pois, infelizmente, ainda não se reputa uma realidade a existência de uma Organização Intergovernamental sobre a Proteção do Meio Ambiente), tais como a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, dentre outras, conjuguem forças com Organizações Não-Governamentais de atuação global - tais como o Greenpeace, o WWF, e outras - a fim de cercar o Direito Internacional Ambiental com normas mais elaboradas e efetivas no plano fático, de verve imperativa e que realmente conscientizem os Estados em seu duplo aspecto - governamental e popular.
Concebido no transcorrer da década de 1970, notadamente com a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, na cidade de Estocolmo em junho de 1972, o Direito Internacional Ambiental congrega novos especialistas a cada dia, e sua relevância no atual cenário das Relações Internacionais se mostra decisivo, em uma realidade de degradação ambiental e preterimento da proteção ao meio ambiente em prol do desenvolvimento econômico, principalmente nos Estados em desenvolvimento crescente, como o Brasil.
Levando em consideração o Meio Ambiente humano em uma dimensão quadripartite - ecológico, artificial, cultural e profissional - a disciplina do Direito Internacional Ambiental tenciona resguardar o ser humano em sua totalidade, em qualquer lugar em que se encontre.
Porém, ainda deve ser desenvolvido o arcabouço teórico e legal que o embasa, pois a Sociedade Internacional reclama maior estruturação jurídica em matéria ambiental. É mister, pois, que os organismos internacionais estratégicos (pois, infelizmente, ainda não se reputa uma realidade a existência de uma Organização Intergovernamental sobre a Proteção do Meio Ambiente), tais como a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, dentre outras, conjuguem forças com Organizações Não-Governamentais de atuação global - tais como o Greenpeace, o WWF, e outras - a fim de cercar o Direito Internacional Ambiental com normas mais elaboradas e efetivas no plano fático, de verve imperativa e que realmente conscientizem os Estados em seu duplo aspecto - governamental e popular.
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011
Islamismo e Turbulências na Política Internacional - uma breve reflexão
Verifica-se com frequência a incidência de sérias complicações na situação política de determinados Estados, tanto em relação ao sistema global quanto em sua realidade doméstica, devido a determinados fatores de ordem meramente cultural e sociológica. Talvez o principal deles seja a Religião, que tanto permeia a mente humana em suas esperanças, angústias, alegrias e tristezas.
Tal tem ocorrido na atualidade principalmente com relação aos Estados que adotam a Religião Islâmica, e de forma notável nos que inserem em seus sistemas jurídicos elementos da doutrina de Mohammed. Verifica-se, por exemplo, que no Egito as comunidades cristãs são vistas com desdém, e normalmente não possuem bom relacionamento com o Estado e parcela de sua população.
É imperioso que tais incidentes cessem, para o bem de todos os povos da Sociedade Internacional. Caso não se observe a Alteridade, tantas vezes revisitada pelos estudiosos, entretanto lamentavelmente observada na práxis das relações internacionais. Convido todos a ler e auxiliar nesta pequena reflexão sobre como se encontra o atual estágio do relacionamento interpessoal entre os membros das civilizações humanas, para que não sucumbamos à barbárie da ignorância perante o tratamento dispensado por determinados agentes estatais e cidadãos que, encarnando determinada religião, por vezes deturpam-na com o fundamentalismo e disseminam o preconceito perante os adeptos de outras manifestações culturais.
Tal tem ocorrido na atualidade principalmente com relação aos Estados que adotam a Religião Islâmica, e de forma notável nos que inserem em seus sistemas jurídicos elementos da doutrina de Mohammed. Verifica-se, por exemplo, que no Egito as comunidades cristãs são vistas com desdém, e normalmente não possuem bom relacionamento com o Estado e parcela de sua população.
É imperioso que tais incidentes cessem, para o bem de todos os povos da Sociedade Internacional. Caso não se observe a Alteridade, tantas vezes revisitada pelos estudiosos, entretanto lamentavelmente observada na práxis das relações internacionais. Convido todos a ler e auxiliar nesta pequena reflexão sobre como se encontra o atual estágio do relacionamento interpessoal entre os membros das civilizações humanas, para que não sucumbamos à barbárie da ignorância perante o tratamento dispensado por determinados agentes estatais e cidadãos que, encarnando determinada religião, por vezes deturpam-na com o fundamentalismo e disseminam o preconceito perante os adeptos de outras manifestações culturais.
Assinar:
Comentários (Atom)